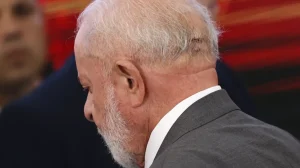As duas primeiras décadas do século 21 assistiram a uma verdadeira revolução no estudo das deficiências que sofre uma parcela expressiva da população mundial. Hoje plenamente consolidados, os chamados "disability studies", literalmente estudos da deficiência, transformaram uma palavra de sentido negativo, discriminatória, em algo que só quer dizer o que significa de fato: a diferença. As pessoas com deficiências de visão, audição, falta de membros por acidentes, são só isso. Diferentes. E precisam ser respeitadas como tal. Neste universo, o ramo dos "disabilities in music" vêm desconstruindo velhos dogmas e meias-verdades da história da música.
Ainda em sentido amplo, hoje em dia já acontecem casos como o que envolveu o conhecido neurologista Oliver Sacks (1933-2015), autor de mais de uma dezena de livros interessantíssimos, entre os quais um, Tempo de Despertar (1973), deu origem ao filme de 1990, estrelado por Robin Williams e Robert de Niro. Ao visitar uma escola de surdos, Sacks não conseguiu aprender mais do que duas ou três palavras na linguagem dos sinais. Um dos alunos perguntou-lhe então com naturalidade: "Por que você não se acha deficiente na linguagem dos sinais?" Em outro livro, fala de um pintor que sofreu acidente e torna-se daltônico, aprende a beleza do preto, branco e cinza: "Os daltônicos constroem mundos com o que têm. Eles são o centro de seu próprio mundo, e não se sentem deficientes. Nos termos deles, são normais".
Estas reflexões me assaltaram quando li as notícias de dias atrás sobre o cantor Tony Bennett. Aos 94 anos, ele sofre de Alzheimer desde 2016, mas o fato só agora foi publicamente revelado. Na reportagem de John Colapinto (disponível em www.aarp.org/entertainment/celebrities/info-2021/tony-bennett-alzheimers), o jornalista o descreve, em seu apartamento de frente para o Central Park, em Manhattan. Folheia impassível, sem mover um músculo na face, um livro em formato grande, tipo table book, com fotos de página inteira mostrando momentos memoráveis de sua gloriosa carreira de mais de sete décadas. Faz um esforço, mas não se reconhece.
O estigma que hoje cerca o Alzheimer corresponde ao da surdez em séculos passados. O exemplo mais famoso é o de Beethoven. Em Hearing Beethoven, o musicólogo norte-americano Robin Wallace parte da surdez de sua mulher, Barbara, para construir um livro diferente. Durante oito anos e meio, a convivência com ela ensinou-lhe que entendemos errado a surdez em Beethoven. "Muitas pessoas com deficiência se ressentem da suposição generalizada da sociedade de que deveriam querer ser curadas. Em termos musicais, isso sugere que não devemos nos perguntar como Beethoven superou sua surdez ou, na verdade, como qualquer outro grande artista com deficiência consegue se desenvolver apesar dela. Em vez disso, em nossas mentes, à medida que abordamos suas histórias, deve estar a questão do que eles têm a oferecer de maneira exclusiva".
Exclusividade que a percussionista escocesa Evelyn Glennie, surda desde os 8 anos, atribui ao corpo, que "funciona como um grande ouvido. Beethoven chegou a morder o teclado do piano para sentir as vibrações nos dentes".
Em seu livro, Wallace vai ao detalhe para mostrar que a surdez moldou a música de Beethoven de maneiras centrais para seu estilo pessoal. E acrescenta: "Em termos de sua influência na música posterior, o traço mais significativo é o uso de motivos curtos, altamente reconhecíveis e frequentemente repetidos".
Isso muda o modo como devemos entender suas inovações: "Os blocos de construção melódicos tendem a ser curtos e memoráveis. Quanto pior ficava sua audição, mais ele dependia da repetição frequente, quase obsessiva deste material. É como se estivesse compondo levando em conta os desafios específicos da perda auditiva. O resultado foi um estilo musical poderoso que parece contar uma história de superação de adversidades". Parece, mas não é, adverte Wallace.
A crise mais imediata que ele enfrentou tinha a ver com isolamento social e depressão. Algo cuja extensão entendemos hoje perfeitamente, porque também vivemos isolados uns dos outros. O que usou como antídoto? "Curou-se a si mesmo ampliando o alcance emocional e o dinamismo de sua música. Nossa humanidade é alimentada pela diversidade, por encontrarmos pessoas com experiências diferentes das nossas e por atribuirmos valor àqueles que os outros frequentemente consideram doentes ou incompetentes."
Como Beethoven em seu isolamento, Tony Bennett mantém uma rotina positiva: pratica ginástica três vezes por semana. E faz também dois shows ensaios semanais, com seu pianista Lee Musiker pilotando um imponente Bosendorfer. Como se fosse um show de verdade, com direito a "set list" das canções à vista e 90 minutos de duração. E Bennett canta maravilhosamente. Sequer esquece letras aqui ou acolá. Mas como, se a memória costuma falhar nos portadores de Alzheimer? Sacks responde: "A linguagem musical prevalece sobre todas as outras e a memória para ela sobrevive a todas as outras formas de memória, e funciona quando tudo o mais parece ineficaz" (entrevista no Estadão, a Antonio Gonçalves Filho, em 26 de setembro de 2007). Bennett liga o "modo performance", diz sua mulher Susan, quando fica em posição de palco. E daí em diante tudo acontece como se o Alzheimer não existisse.
Entender a diferença é comportamento-chave em relação às deficiências dos outros.
Fecho com Glennie. Ela colabora com uma organização, a Memory Bridge (www.memorybridge.org), que visa, em suas palavras, "criar uma ponte para as pessoas com demência, para que elas saibam do seu valor, seus sentimentos, mesmo que estejam em um quadro clínico complicado. Recebi as maiores lições sobre ouvir quando encontrei pessoas com demência, na medida em que notei uma diferença ao tocar. Ser paciente e presente são as chaves para nos conectar conosco e com os outros" (a entrevista com Glennie pode ser lida em no site www.eauriz.com.br/evelyn-glennie).
As informações são do jornal <b>O Estado de S. Paulo.</b>