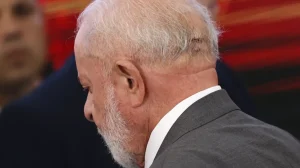São 35 anos de trajetória, com a criação de peças que se tornaram ousadas, provocadoras, clássicas. É o que poderá ser visto em Exposição Irmãos Campana – 35 Revoluções, mostra que abre neste sábado, 14, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Trata-se de uma ampla seleção de peças de design e esculturas desenvolvidas ao longo das últimas décadas por Fernando e Humberto.
Experimentação e ousadia são elementos-chave no trabalho dos irmãos, criadores de peças intrigantes, como as cadeiras Vermelha e Favela. Admiradora do trabalho dos artistas, a cantora e compositora Adriana Calcanhotto elaborou, a pedido do jornal <b>O Estado de S. Paulo</b>, as seguintes questões que foram respondidas pelos irmãos.
<b>Como nasceu a ideia da Poltrona Favela?</b>
Fernando – Em 1990, passamos por São Conrado, no Rio de Janeiro, e vimos aquela bacia que forma a Rocinha. Na hora, veio a inspiração para uma cadeira desconstruída e Humberto a montou com tábuas de caixas de fruta do Ceasa. Mas acho que o que há de mais interessante por trás disso é o design emergencial, aquilo que o brasileiro sabe fazer de melhor. A necessidade é mãe da criatividade, então nós procuramos traduzir isso. A cadeira demorou 13 anos para decolar e ser produzida industrialmente. Na época, demos a ela o nome de Favela, que hoje acho pejorativo.
Humberto – A ideia nasceu da vontade de criar sem o rigor da escola modernista. Por que não fazer uma peça com liberdade de expressão? Acho que esta é a questão mais importante da poltrona. Ela contém um esqueleto e a pessoa preenche o espaço vazio como achar melhor. A poltrona é muito espontânea e cada uma é única, porque não se repete o gesto. Ela valoriza a poética do gestual e não tem o rigor de um projeto. O projeto acontece através do afeto, do coração.
<b>E a Cadeira Trans?</b>
Fernando – A Cadeira Trans foi criada para uma exposição no Museu Cooper-Hewitt, de Nova York, em 2007. A ideia era ter a natureza expurgando tudo o que é poluição, plástico, e retomando o seu lugar no contexto do mundo. É como se todos aqueles objetos tivessem sido expelidos. Hoje, o oceano está repleto de garrafa PET, uma coisa absurda. Então, foi uma forma de protesto.
Humberto – A Trans fez parte do projeto Campana Brothers Select: Works from the Permanent Collection, do Museu Cooper-Hewitt, que convidava artistas e designers para serem curadores de seu acervo. E nós decidimos que toda a curadoria dessa exposição seria em cima da trama, do tramado, da palha, do vime, da cerâmica A cadeira faz parte da série Transplastic. A gente imaginou a natureza se nutrindo do plástico, se alimentando do plástico, só que essa peça expele plástico de tudo quanto é lado.
<b>Existem, no trabalho de vocês, bloqueios criativos? São individuais ou coletivos? Contaminam a dupla ou há um rodízio administrado de bloqueios?
Fernando – Eu acho que, em todo processo criativo, existem bloqueios. Em dupla, nós alternamos. Acho que existe uma forte relação espiritual entre mim e o Humberto, apesar da diferença etária. Temos até sonhos iguais. Mas é lógico que o branco vem, e muitas vezes ele gera angústia e a angústia gera a criação.</b>
Humberto – É impossível administrar duas cabeças caóticas, isso não ocorre de jeito nenhum! Às vezes, um tem um bloqueio e o outro vem e acolhe. Quando um está numa fase ruim, o outro vem e tenta reerguer. Às vezes, os dois sucumbem juntos também (risos).
<b>Dos materiais com os quais já trabalharam, existe algum que tenha sido muito mais surpreendente ou desafiador do que parecia a princípio, que tenha gerado mais dificuldade e, talvez por isso, tenha ficado engraçado?</b>
Fernando – Acho que quase todos os materiais nos desafiam. Nossa relação com os materiais se dá quase como um flerte. Alguns são mais reticentes, mais difíceis de dominar. Quando nos sentimos capazes de finalizar, de realizar a ideia, a obra vem mais rápido. Quando não, esse material fica num limbo. É o caso da cadeira Vermelha de cordas. Humberto comprou um rolo de cordas e a ideia era fazer alguma coisa. Esse rolo se desfez sobre uma mesa e acho que demorou uns seis meses para os dois, ao mesmo tempo, olharem e imaginarem: "Olha ali, é um ninho, é um material que pode se transformar em uma cadeira". Acho que essa foi a nossa prova de fogo ao ousar e construir, pois são 400 metros de corda trançados que criam um objeto que quase se desfaz. Essa peça era condenada a ser peça única e hoje é o nosso best-seller e é acervo de vários museus como MoMA, Centre Pompidou, Museum of Fine Arts em Houston e outros museus e coleções privadas.
Humberto – O material que nos desafiou bastante foi o vime da cadeira Trans, porque imagina você chegar para um artesão que durante toda a vida fez cestos de vime e propor uma cadeira tramada com plástico? É uma coisa bizarra! Foi um grande vai e vem de conversas, de testes, até chegarmos a um resultado que nos surpreendeu.
<b>Vocês tinham alguma ideia, em algum momento, do alcance do trabalho de vocês, também em relação ao quanto ele influencia outros artistas?</b>
Fernando – Jamais. Sinto como se fôssemos duas crianças ainda brincando no quintal no interior de São Paulo e, à noite, indo assistir a Kubrick e ao neorrealismo italiano no cinema… Acho que até hoje a gente usa o estúdio como um parquinho de diversão ou nosso quintal. Ele fica no centro de São Paulo, num lugar pequeno com poucas pessoas… Hoje me assusta realmente chegar ao lugar que nós chegamos. Chegar ao MAM do Rio é equivalente ao que fizemos no MoMA de Nova York, só que aqui é grandioso. Para essa exposição, nós criamos quase que uma cenografia de ópera, onde os protagonistas são os móveis. É um pouco estarrecedor, mas é uma felicidade. São 35 anos, 35 revoluções, 35 milhões de discussões (risos)…
Humberto – Nunca imaginei que chegaríamos a isso. Eu era advogado. Deixei a profissão e fui buscar alguma outra forma para sobreviver. Aí as coisas foram acontecendo… Mas nunca pensei "olha, eu quero chegar a isso", nem eu nem o Fernando. Nós não somos estrategistas. As coisas vão acontecendo, no português popular, aos trancos e barrancos. A vida vai nos jogando e a gente vai se adaptando. Nós somos muito flexíveis, versáteis, e eu acho que essa é a nossa grande riqueza – e a dos brasileiros também. Criamos uma escola projetual Campana. Sou muito humilde, mas não vou negar isso.
Desde o início, nem eu nem o Fernando quisemos seguir a escola Bauhaus. O modernismo é muito presente no Brasil, me influenciou, mas eu não queria isso. Será que essa única escola é a dona da verdade? Num país com uma dimensão continental, uma cultura incrível, de raças, de cores, de tudo? Não somos minimalistas e essa é a nossa riqueza. É impossível, no Brasil, ser minimalista, cool, calmo, zen, japonês dinamarquês, alemão… Nós trouxemos para o nosso trabalho toda essa bagagem da riqueza dos trópicos e criamos uma escola projetual Campana, que abriu portas para toda uma geração de designers brasileiros.
<b>O que tem em cada um de vocês de índio e de astronauta? Queria que vocês falassem um pouco disso, porque é muito bonito e revelador. Ajuda muito na compreensão da obra de vocês.</b>
Fernando – Acho que eu pensei em ser astronauta quando meu pai me levou a São Paulo para assistir a 2001 – Uma Odisseia no Espaço no cinema, em 1968. Quando voltei para o interior, eu não me conformava com os brinquedos de plástico ou de alumínio que tinha. Isso aconteceu na época da construção da nossa casa e eu construía as espaçonaves com restos de madeira da construção, mandacaru e bambu. Aí chegou a televisão e eu só assistia às séries de ficção científica: Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo, Terra de Gigantes e esses filmes B sobre Marte, monstros…
Humberto fazia casas em árvores, criava barragens em um riacho que havia no nosso terreno… e, enquanto isso, eu voava. Meu sonho, se eu não fosse gente, era ser passarinho ou avião. E acho que trouxemos isso para o nosso trabalho, porque o Humberto tem a manualidade enquanto eu tenho a racionalidade.
Humberto – Quando criança, eu queria ser índio. Eu lembro que tinha sete anos e me recusava a usar sapatos quando minha mãe me levava à escola. Índio não usava sapato, por isso também não queria usar. Eu adorava a cultura indígena, as cores, a forma como eles se pintavam, as ocas… e trazia todo esse universo para a minha imaginação. No quintal de casa, havia um riacho, então eu fazia piscinas que imaginava que eram o Rio Amazonas. Cortava o bambu, fazia casas nas árvores, fazia arco e flecha. Me vestia de índio não só no carnaval. Em casa mesmo, fazia penacho na cabeça… Fora os filmes que eu via sobre a África: Tarzan, todo aquele universo. Eu fazia zoológicos no quintal de casa com galinhas, porcos, peixes… lá era minha selva (risos). Meu pai ficava louco! Eu ia ao Museu do Ipiranga, que tem uma coleção de arte indígena primitiva. Era incrível! Isso impacta totalmente o nosso trabalho. Acho que a escolha dos materiais veio dessa coisa do índio, do fazer manual, das contas, penachos, instrumentos, vasilhas… tudo aquilo que sempre me fascinou.
As informações são do jornal <b>O Estado de S. Paulo.</b>